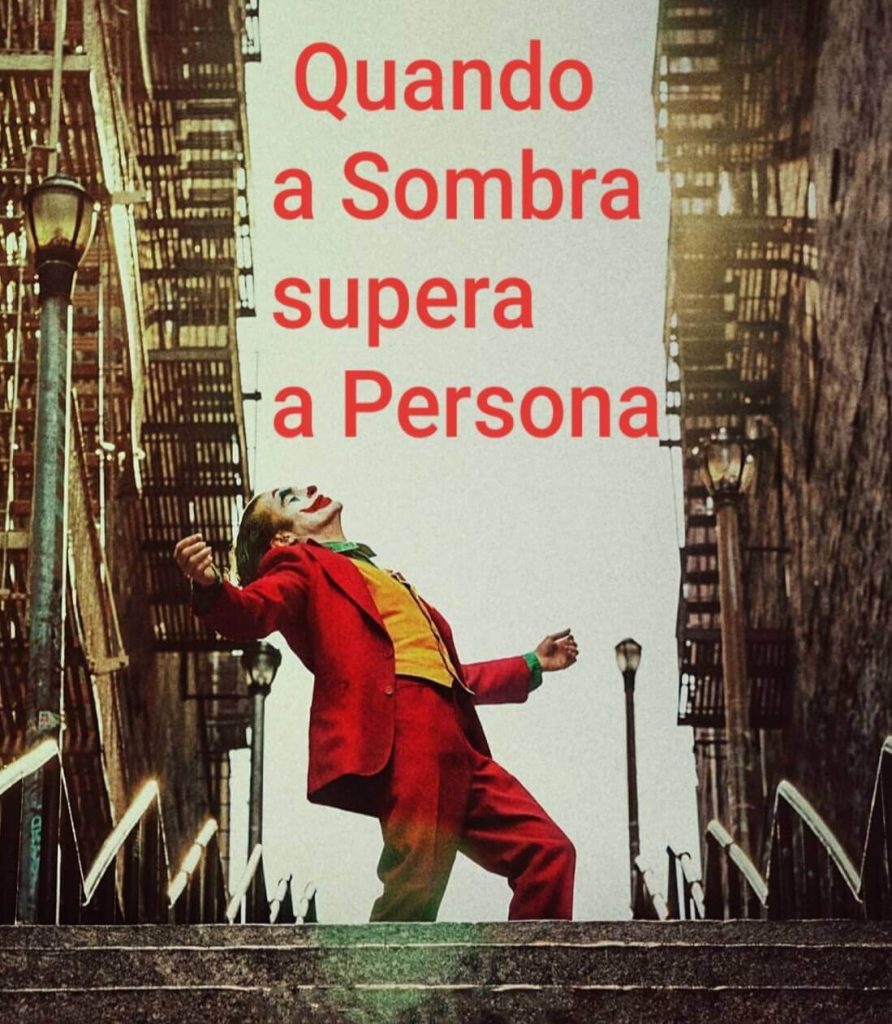
Uma crítica do filme Coringa (Joker) sob o ponto de vista psicanalítico
Por Fernando Porto Fernandes
“Você não escuta, não é? Você apenas faz as mesmas perguntas todas as semanas. ‘Como está seu trabalho? Anda tendo pensamentos negativos?’ Tudo o que eu tenho são pensamentos negativos.” A reclamação de Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) para uma assistente social burocrática e também desgostosa com o serviço (“Eles não dão a mínima para pessoas como você ou como eu”, responde ela) resume o cerne da jornada catastrófica do personagem, que culminará em sua incorporação inevitável do Coringa (ou “Joker”, no título original do filme em cartaz).
O fatídico destino de Arthur é alimentado por esta falta de uma escuta qualificada que realmente faça tal sujeito, perturbado mentalmente, encontrar um “outro” que acolha sua narrativa e, assim, permita uma esperançosa mudança no limiar entre realidades externa e interna.
Além da busca incessante por ouvidos e olhos acolhedores, Arthur, ainda na frágil sanidade, busca sem sucesso um reconhecimento de um suposto pai que o abandonou (o milionário Thomas Wayne), não por dinheiro – garante ele – mas sim por consideração digna de filho. Outro pai, este idealizado, é procurado por ele na figura de seu ídolo Murray Frank (Robert de Niro), um apresentador de TV – mas que também o trai, ao humilhá-lo publicamente. Já no final, como assassino convicto, preso e internado no Arkham State Hospital, não mostra mais sentimentos de rejeição, mas sim de conformação com a impotência da sociedade de penetrar além das trevas de sua loucura. “Você não entenderia”, diz à médica do sanatório que questiona o motivo da sua risada.
Desvendando a mente do Coringa
Questionamentos morais à parte – não há, claro, como defender seu rastro sangrento que se espalha na segunda parte do filme –, é possível buscar aonde de fato desabaram a integridade, a bondade e a sanidade de Arthur Fleck. Sua vida pré-Coringa não barra, em nenhum momento, com uma escuta acolhedora, seja profissional ou não, e a trajetória, durante o filme, caminha para o enfraquecimento de sua persona – na linguagem da psicologia de Carl. G. Jung, a máscara que o ego constrói para o convívio na sociedade – ou, melhor, de uma persona dividida ou fragmentada em duas: do rapaz com distúrbio neurológico e do palhaço fracassado na arte de fazer rir.
A cada cena, vai aumentando a tensão do espectador para a cisão de um ego, cada vez mais fragilizado, tomado por sua sombra; um monstro perigoso que ameaça derrubar a porta do inconsciente e invadir, a qualquer momento, a realidade externa.
É fato, pela lógica psicanalítica freudiana, que a loucura selvagem de Arthur Fleck, fragilmente disfarçada e reprimida (e não escutada e purificada por ressignificação) transbordará em sintomas cada vez mais intensos para derrubar as defesas do vulnerável sujeito, com sinais muito mais alarmantes do mal que está por vir.
Arquétipos em ação
Mais do que um distúrbio neurológico, o riso incontrolável, descompassado de seus sentimentos, do até então inofensivo palhaço de rua, aspirante a comediante de stand up, parece ser provocado em sua psique por um arquétipo obsessor como o de Éris, a deusa grega da discórdia, empurrando o pobre Arthur para situações de confronto com pessoas violentas ou abusadoras.
Ou, mais adequado ao caso, impulsionado dentro da mesma psicologia arquetípica pela figura do Trickster, o prega-peças e gerador de caos da mitologia indígena, estudado pelo pesquisador Karl Kerényi e associado por Jung ao Louco do tarô (também coringa no baralho de jogo) e à faceta transgressora do deus grego Hermes. Jung vai mais longe e coloca o mito Trickster/Louco como a personificação do arquétipo da sombra do inconsciente.
Voltando ao filme, é também emblemática a sua relação com o revólver adquirido para se defender dos delinquentes que o atormentam na rua. Em um tiro desajeitado dentro do apartamento – que atrai a atenção e provoca a bronca de sua mãe (doente no presente, possessiva e abusadora no passado) – Arthur age como uma criança que descobre um brinquedo poderoso. Ele parece tomar, então, a arma como um poder fálico para a retomada de sua potência narcísica – que realmente nunca teve, diante da ausência do modelo de pai para espelhar-se, ser confrontado e interditado, como manda o curso natural da fase complexual edipiana teorizada por Freud.
Narcisismo de vida e de morte
A ingenuidade inconsciente de portar a arma para afirmação fálica, na rotina de seu trabalho, resulta na absurda inconsequência de derrubar o revólver do uniforme de palhaço em plena apresentação beneficente para crianças com câncer em um hospital. É, nesta simbólica cena, a persona enfraquecida de Arthur em busca da pulsão narcísica de vida, de “salvar” as crianças em estado terminal e, consequentemente, salvar a si mesmo. No entanto, novamente, na lei da ambiguidade psíquica, o cair denunciador da arma revela o outro lado da balança de Arthur, que pesa mais: a pulsão de morte (que o analista lacaniano André Green classificou brilhantemente como narcisismo negativo ou de morte, que não aspira ao fortalecimento do Eu, mas à sua redução “ao zero”). É o sintoma sabotador do sombrio Coringa batendo na porta novamente.
Indivíduo e sociedade
O longa traz questões importantes sobre uma sociedade dos anos 70 extremamente anestesiada do espírito de alteridade – que, propositadamente, é retrato do mundo atual –, fragmentada pela desigualdade social, regida por um Estado que trata como párias pessoas com transtornos psíquicos (“A pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se não a tivesse”). Vários especialistas já esmiuçaram esse viés social em outros artigos com muita propriedade.
O que se estabelece aqui é muito mais sobre essa figura ambígua Arthur/Coringa; o embate entre persona e sombra. E o diretor do filme, Todd Phillips, confessou publicamente ter deixado pontos cegos na história, para dar margem a diferentes hipóteses. Há, por exemplo, um passado de internações de Arthur por problemas neurológicos e por traumas de abusos físicos dos namorados da mãe.
Psicose ou psicopatia?
Em alguns momentos, o personagem se mostra esquizofrênico por suas alucinações com a vizinha ou no auditório de seu apresentador de TV favorito – sempre carregado de afeto em desejos faltosos. Em outros momentos, principalmente na ascensão como assassino, apresenta uma psicopatia clássica, sem culpa ou ressentimentos – até mesmo no matricídio – de supostas vinganças contra traidores; uma banalidade do ato de matar, sem o “sentir” aparente.
Na realidade, o arquétipo do Louco está nos atos ambíguos do dia-a-dia de cada ser humano: entre atos de amor e ódio, de força e fraqueza, que nos surpreendem positivamente em nossos gestos nos relacionamentos e intuições, assim como nos prega peças em súbitos equívocos e pensamentos proibidos.
Ambiguidade na vida
Não à toa, o Louco se mostra também como o mito do andarilho das cartas do tarô, sem um número definido, característica de seu mistério. Ele “caminha para a frente, mas olha para trás, ligando assim a sabedoria do futuro à inocência da infância”, escreve a analista junguiana Sallie Nichols. Se ele é uma sombra da qual o ser humano deseja se afastar, é, ao mesmo tempo, a esfinge a ser desvendada, reconhecida e ressignificada, para avançarmos além do mundo dos opostos, seguindo a árdua e necessária jornada da individuação.
*Fernando Porto Fernandes é psicanalista de abordagem junguiana e escritor. Trabalhou por 30 anos no jornalismo impresso, produzindo textos para jornais e revistas. É autor do livro “Morte, Biografia Não Autorizada” e faz palestras sobre o tema “Pequenos e Grandes Lutos de Nossa Vida”. Contato pelos e-mails: [email protected]
Fernando, que prazer ler a análise que você escreveu !
Fernando, que prazer ler a análise que você escreveu !